 Pode uma mulher independente ser feliz? É esta a pergunta que a capa de Cabine Para Mulheres faz, adiantando o tema do livro.
Pode uma mulher independente ser feliz? É esta a pergunta que a capa de Cabine Para Mulheres faz, adiantando o tema do livro.
Akhila não tem a resposta. Ou melhor, tem-na, mas não quer conformar-se a ela. Desde pequena, foi criada para acreditar que a mulher só está completa quando tem um homem ao seu lado. Apesar disso, resolve deixar sua família e viver sozinha. No trem, na cabine reservada para mulheres (que me lembra, tristemente, o vagão para mulheres do metrô do Rio de Janeiro), Akhila conhece outras cinco – que viajam acompanhadas por homens, mas segregadas ao vagão especial -, cada qual com sua história. Ao longo da viagem, as revelações de suas companheiras de cabine a farão refletir sobre a própria vida.
A história de Akhila se passa na Índia dos fim dos anos 90. Ela tem 45 anos. Ter de cuidar, desde adolescente, da mãe e dos irmãos. Toda a felicidade era para eles; nada sobrava para Akhila. Perdeu as oportunidades de se casar. Dona de um emprego público razoável, acostumou-se a ser a provedora e a ser sozinha. Aos 45, ela decide que quer seguir sozinha pela vida. Será que pode envelhecer sozinha? Será que pode deixar para trás os parentes que até hoje a tolhem e impedem-na de encontrar a felicidade?
As mulheres que partilham suas vidas com Akhila são muito diferentes entre si, mas têm em comum a energia para tentar romper as barreiras sexistas, para fazerem-se ouvir, para dizerem a que vieram. Não querem submeter-se à sociedade indiana patriarcal. Não querem viver à margem de pais, filhos ou maridos que não permitem que desenvolvam seu potencial, suas ideias e suas emoções.
De todas, Akhila é a mais radical em suas opções – talvez não por escolha, mas porque a vida lhe colocou situações que a forçaram neste caminho. Como todas, tem inseguranças e medos. Como todas nós, só quer ser feliz.
Trechos
– Essa coisa de igualdade no casamento não existe – disse amma. – É melhor aceitar que a mulher é inferior ao marido. Assim, não haverá atritos, nem desarmonia. É só quando alguém quer provar que é igual aos outros que passa o tempo todo lutando e combatendo. É tão mais simples e tão mais fácil aceitar nosso próprio lugar na vida, e viver de acordo com ele. A mulher não foi feita para assumir o papel do homem. Se fose, os deuses a teriam feito assim. Portanto, que história é essa de os dois serem iguais, num casal? (p. 28)
Entende o que estou querendo dizer? São mulheres legais, mas daquelas que não se sentem completas sem um homem. Podem até dizer o contrário, mas eu as conheço, e outras como elas. No fundo do coração, acham que o mundo não quer saber de uma mulher sozinha. (p. 133)
“E eu?” Foi o que quis perguntar. Será que não tenho o direito de esperar nada dele? Eu não trabalho, tanto quanto ele, e mais ainda, porque tenho de cuidar também da casa? Por que você acha que ele é ocupado e eu tenho todo o tempo do mundo? Sendo minha mãe, não deveria ficar do meu lado? Não deveria ouvir o meu ponto de vista? O que aconteceu com essa coisa chamada amor incondicional que, supostamente, os pais sentem por seus filhos? (p. 155)
Nenhum dos dois me amava. Mas ambos precisavam de mim. Quem não pode ter amor deve se contentar com a necessidade. O que é o amor, senão uma necessidade disfarçada? (p. 343)
Ficha
- Título Original: Ladies Coupé
- Autor: Anita Nair
- Editora: Nova Fronteira
- Páginas: 364
- Cotação:

- Encontre Cabine Para Mulheres.
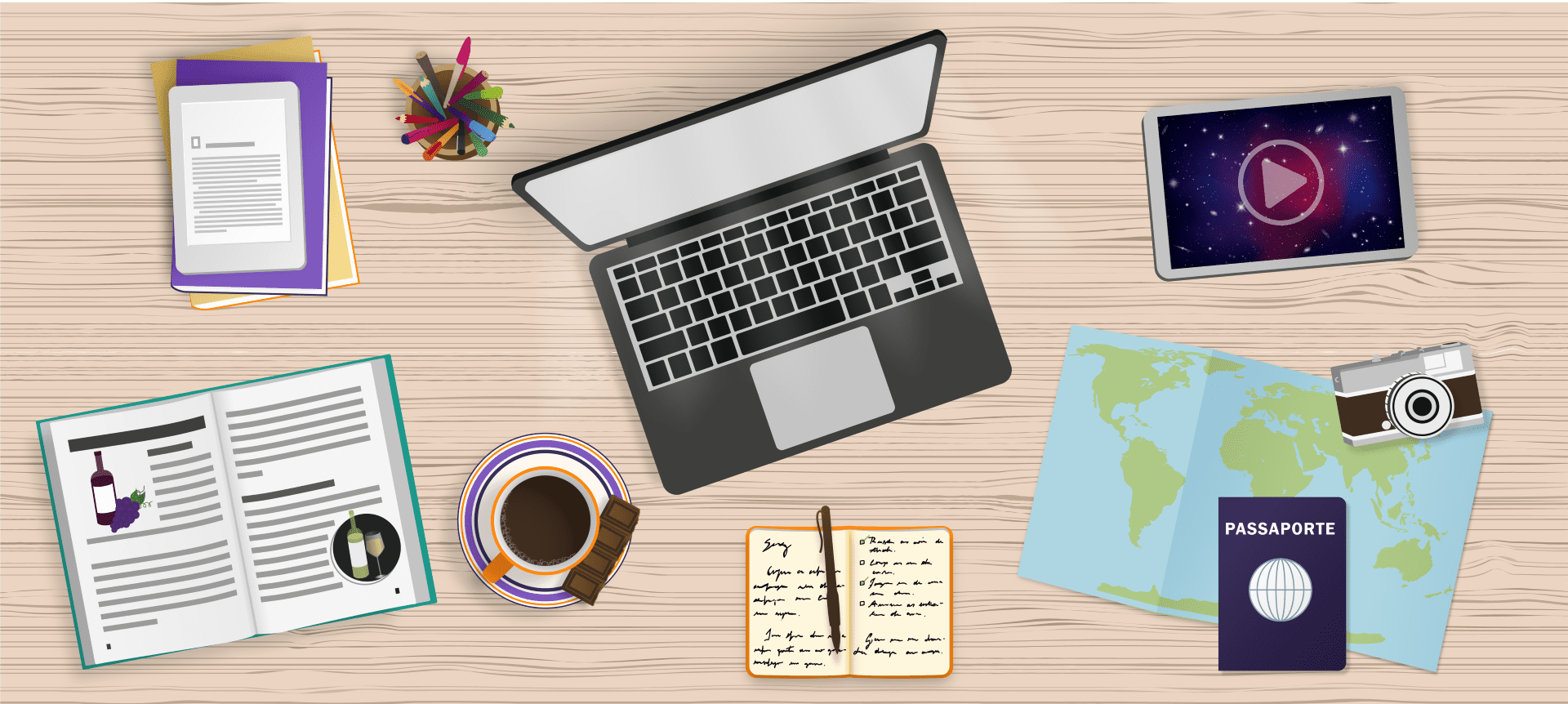
 Uma Pálida Visão dos Montes é o primeiro romance de Kazuo Ishiguro, japonês nascido em Nagasaki e criado na Inglaterra, autor de um dos meus livros favoritos,
Uma Pálida Visão dos Montes é o primeiro romance de Kazuo Ishiguro, japonês nascido em Nagasaki e criado na Inglaterra, autor de um dos meus livros favoritos,  Quem já fez terapia passou por isso: a insegurança ao ver o terapeuta mudo na sua frente, apenas anotando, acenando a cabeça ou simplesmente encarando você. Dá vontade de sacudi-lo pelos ombros e, embora ninguém chegue a esse ponto (acho eu), muita gente pergunta “Ei, o que você está pensando sobre tal ou qual coisa que eu te disse?”. Em geral, a única resposta dada pelo terapeuta é… outra pergunta.
Quem já fez terapia passou por isso: a insegurança ao ver o terapeuta mudo na sua frente, apenas anotando, acenando a cabeça ou simplesmente encarando você. Dá vontade de sacudi-lo pelos ombros e, embora ninguém chegue a esse ponto (acho eu), muita gente pergunta “Ei, o que você está pensando sobre tal ou qual coisa que eu te disse?”. Em geral, a única resposta dada pelo terapeuta é… outra pergunta. Frank Pierce é um paramédico acostumado a salvar vidas no violento Hell’s Kitchen (Cozinha do Inferno), bairro de Nova Iorque – mas sua própria vida está indo pelo ralo.
Frank Pierce é um paramédico acostumado a salvar vidas no violento Hell’s Kitchen (Cozinha do Inferno), bairro de Nova Iorque – mas sua própria vida está indo pelo ralo.