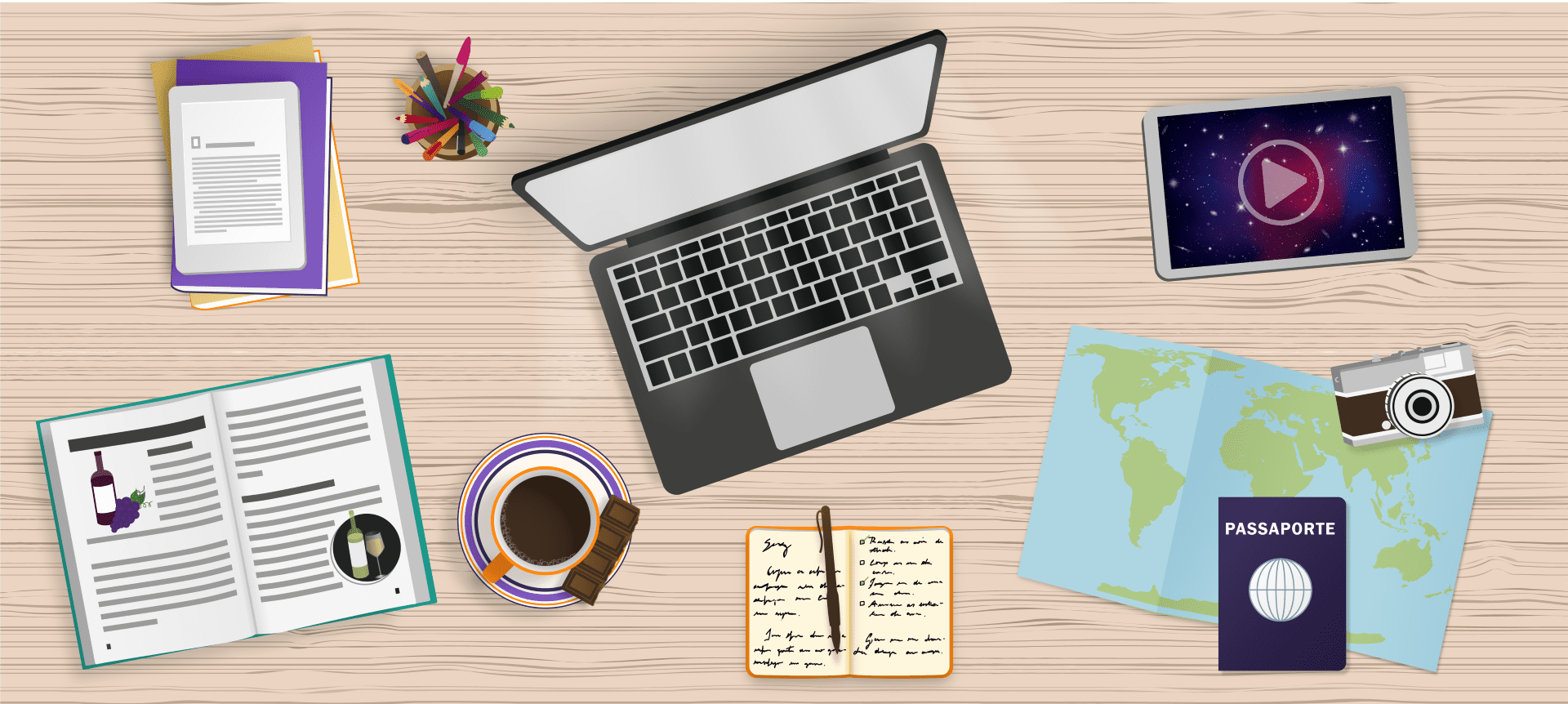A semana passada foi temática: dinossauros em “The Last World” e em “O Parque dos Dinossauros”. O livro de Michael Crichton foi leitura do #lendoscifi e também do #JornadaLendoSciFi, ambos projetos da @soterradaporlivros.
“Parque” foi releitura, mas como li há mais de vinte anos havia pouca coisa que eu lembrava. A premissa, porém, é inesquecível graças ao filme: um sujeito milionário acha que clonar criaturas pré-históricas e criar um parque temático com elas é uma boa ideia. O que pode dar errado, não é mesmo?
Há várias diferenças entre o filme e o livro, e a mais marcante é que o livro dedica mais espaço às explicações científicas em geral e à filosofia de Ian Malcom em particular (meu personagem favorito). A primeira metade é cheia dessas explicações, espionagem industrial e outros backgrounds, e é minha parte preferida.
Quando o livro entra nas cenas de ação, fica devendo. Michael Crichton não é tão hábil em escrevê-las quanto é na parte teórica, e a ação acaba sendo confusa, desinteressante ou simplesmente desnecessária em alguns casos.
O desfecho tem diferenças em relação ao filme (e uma delas é imperdoável). Os personagens também guardam certas diferenças. No geral, é um raro caso de o-filme-é-melhor-que-o-livro. Ainda assim, é recomendado para quem está nostálgico do filme e/ou quer se aprofundar nas especulações científicas da história.
Estrelinhas no caderno: ![]()