Eu tinha uns 12 ou 13 anos e morava no Rio de Janeiro. Foi justamente numa metrópole que eu e minha mãe encontramos com uma profissional cada vez mais escassa: uma costureira de mão cheia, dessas que fazem de bermudinha a vestidos de baile com o mesmo primor – e do lado de casa. Íamos a pé encontrar a Dona Rosinha e na casa dela passávamos a tarde, folheando revistas de moda, tirando medidas, provando os esboços e batendo papo.
Havia três gerações ali – Dona Rosinha tinha idade para ser minha avó – e eu mais escutava que falava. Às vezes, desligava-me da conversa enquanto via as revistas e imaginava as roupas novas. Também olhava bastante ao redor, vasculhando sem tocar as grandes cestas de retalhos (eu sabia que sairia de lá com alguns), o enorme espaço que servia de sala de costura e prova e, logo ali ao lado, a sala de visitas que fazia parte do lar da Dona Rosinha. Na estante escura, uma televisão grande e bichinhos de porcelana sobre toalhas de crochê. Um daqueles retratos clássicos pendurado na parede: várias fotos pequenas de um bebê, formando um círculo sépia, com uma imagem do mesmo menino ao centro, maior e posada.
Nesse ambiente de casa de vó do interior é que a expressão “câncer de mama” tomou forma pela primeira vez. Dona Rosinha tivera câncer de mama muitos anos antes, quando era uma jovem mãe. Quando falei “mas você está curada, né?”, ela explicou que o câncer sumira há tempos, mas de vez em quando ela dava uma conferida. Nos primeiros anos, todo mês precisava checar se estava mesmo bem. Depois, a visita ao médico era a cada seis meses e, finalmente, tornou-se uma rotina anual. “Pra sempre?”. Sim, pra sempre.
Era difícil imaginar que aquela mulher forte, trabalhadeira, criativa e caprichosa tivesse algum dia ficado tão seriamente doente, mas era a mais pura verdade. Dona Rosinha podia mostrar a prova concreta em seu corpo, ou melhor, podia mostrar o que não estava lá: seus seios haviam sido totalmente removidos em função do câncer.
Aquela imagem, que até hoje está bem clara na memória, não me causou piedade – e talvez isso soe extremamente insensível, mas foi assim mesmo. Não me recordo de ter olhado para a Dona Rosinha com pena. Esse o sentimento simplesmente não era compatível com minha costureira preferida com cara de avó. Dona Rosinha era uma mulher talentosa, cheia de energia e que transbordava vitalidade. Se havia algo a sentir por aquela fortaleza de um metro e meio de altura, era admiração. Pura e simples admiração.
Hoje as coisas são muito diferentes do que eram na época em que a Dona Rosinha teve câncer. As mulheres têm mais informações, a medicina evoluiu, há o diagnóstico precoce e a cirurgia reconstrutora faz do tratamento. O trauma físico e psicológico é menor, as taxas de sobrevivência são maiores.
Ainda assim, se eu me tornar parte das estatísticas do câncer de mama, na sua forma mais branda ou não, desejo que possa lembrar-me da Dona Rosinha, cujo nome não poderia ser mais apropriado como símbolo de vitória sobre o tumor. Que eu me lembre da volta por cima apesar da violência do câncer. Que eu lembre que uma doença, qualquer que seja, não me define como ser humano ou como mulher. Que eu lembre que minha feminilidade não se resume a uma parte do meu corpo, mas permeia cada célula, cada sopro de vontade, espírito e alma.
Que eu me lembre, que você se lembre e que sigamos em frente com garra, amor e vontade, mesmo que a vida não seja cor-de-rosa.
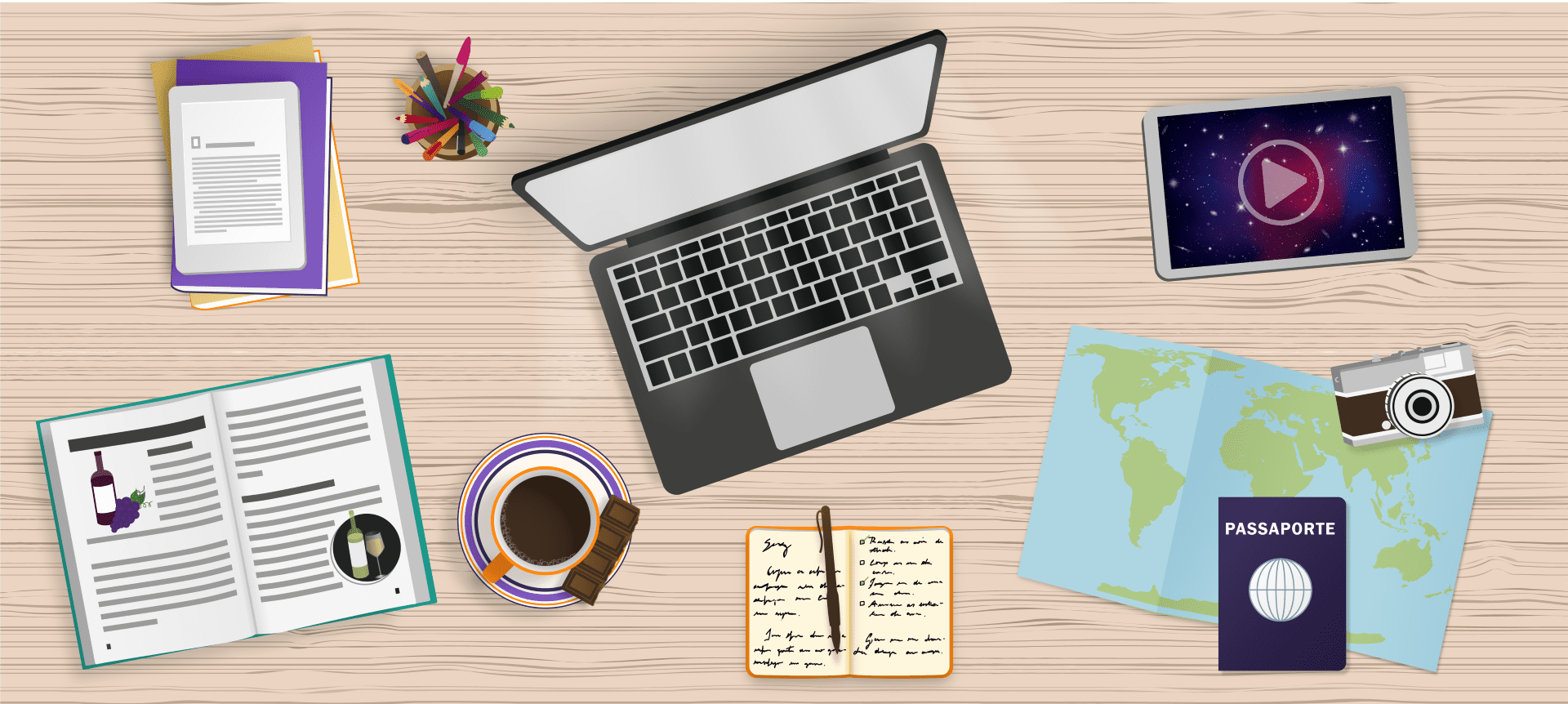

 Vivemos em um mundo movido pelo lucro. Dizer o contrário é hipocrisia e remar contra a corrente é perda de tempo e de esforços. A busca do lucro gera mazelas, sim, mas também é a responsável pelo progresso. É o lucro que motiva o surgimento de grandes invenções, como as que tornam possível que você esteja lendo, agora, este artigo. Se não fosse pela corrida atrás do lucro, pedras e barro fofo seriam até hoje nossas ferramentas mais modernas, doenças banais matariam milhões todos os anos e ver o tempo passar seria nosso lazer principal.
Vivemos em um mundo movido pelo lucro. Dizer o contrário é hipocrisia e remar contra a corrente é perda de tempo e de esforços. A busca do lucro gera mazelas, sim, mas também é a responsável pelo progresso. É o lucro que motiva o surgimento de grandes invenções, como as que tornam possível que você esteja lendo, agora, este artigo. Se não fosse pela corrida atrás do lucro, pedras e barro fofo seriam até hoje nossas ferramentas mais modernas, doenças banais matariam milhões todos os anos e ver o tempo passar seria nosso lazer principal.



